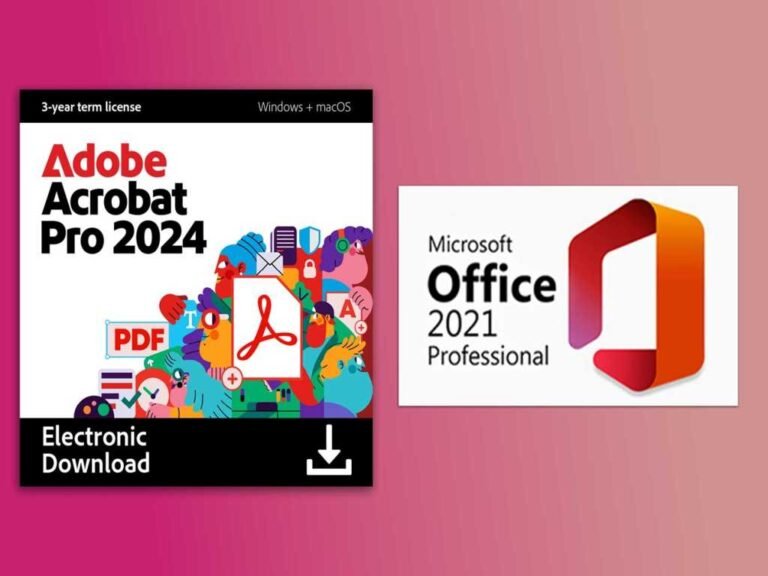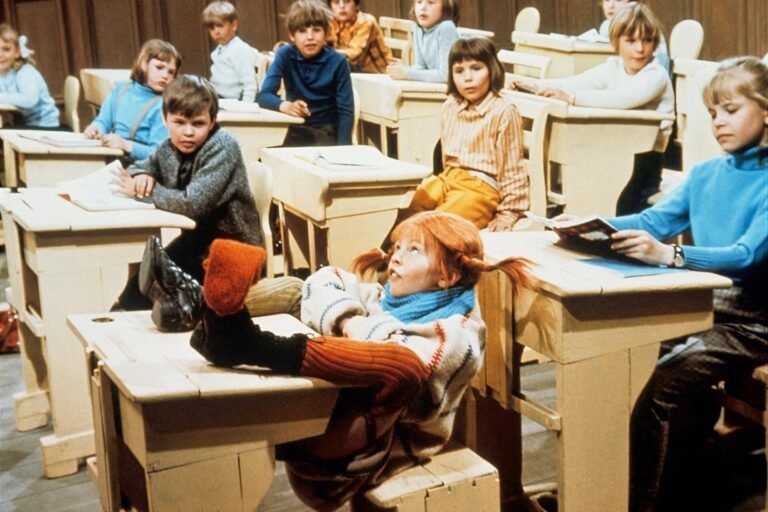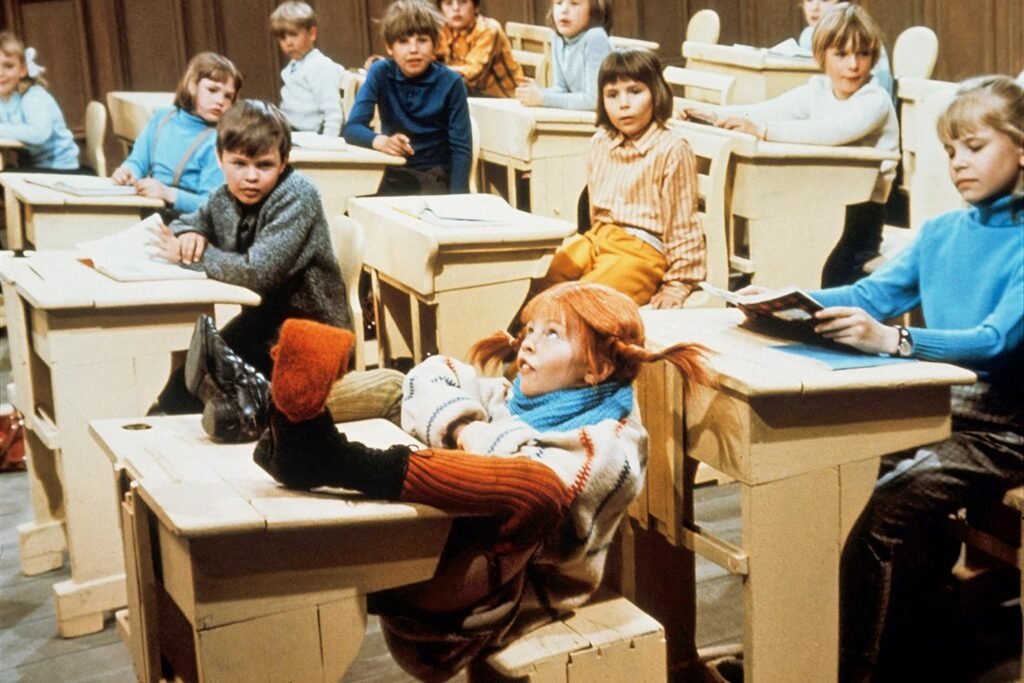A pesquisa clínica e o atendimento assistencial têm a capacidade de gerar uma infinidade de informações de saúde. Esses registros estão criando conjuntos de dados que podem ser extraídos com ferramentas de inteligência artificial e aprendizado de máquina para diagnósticos, previsão de resultados de tratamento e design de novas terapias.
No Brasil, as tecnologias estão transformando os estudos clínicos ao possibilitar um planejamento mais estratégico e uma execução mais eficiente da assistência.
“Nos últimos anos, a pesquisa clínica deixou de ser uma atividade periférica e passou a ocupar um papel estratégico no planejamento das instituições de saúde brasileiras. Impulsionada pelo avanço da digitalização, pela adoção de novas tecnologias, como inteligência artificial, internet das coisas (IoT) e deep learning, e por uma maior valorização do conhecimento científico, essa transformação está redesenhando a forma como hospitais geram inovação e qualificam o atendimento assistencial”, analisa Felipe Cabral, coordenador do GT Tecnologia e Inovação em Saúde da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) e gerente médico de Saúde Digital do Hospital Moinhos de Vento.
Segundo Cabral, a pesquisa está se tornando um diferencial competitivo real. Ela atrai e retém talentos, gera inovação e conhecimento, qualifica a assistência e pode até diversificar a receita dos hospitais, destacando o aumento do interesse por estudos com foco tecnológico, como desenvolvimento de softwares voltados à saúde.
“Ainda há um longo caminho a ser percorrido no sentido da implementação de ferramentas tecnológicas em larga escala, mas já se conhece bastante sobre o grande potencial da aplicação dessas tecnologias para a pesquisa clínica. O uso de grandes volumes de dados de saúde permite a boa aplicação de ferramentas de inteligência artificial e nos leva à seleção mais precisa de centros de pesquisa e de populações elegíveis, além de contribuir para a definição de protocolos mais assertivos e personalizados”, afirma Fernando de Rezende Francisco, diretor executivo da Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica (Abracro).
Durante a condução de um estudo, a IA pode ser utilizada para monitorar dados em tempo real, detectar possíveis eventos adversos ou desvios de protocolo e ajudar a manter o engajamento dos participantes, por meio de aplicativos e sistemas interativos. Na análise de dados, técnicas de machine learning permitem processar informações complexas, como imagens, dados genômicos e informações não estruturadas, além de apoiar a predição de desfechos clínicos e a tomada de decisão mais ágil e embasada.
Já a interoperabilidade entre sistemas de saúde e plataformas de pesquisa tem favorecido a troca mais fluida e segura de informações, reduzindo erros, retrabalho e o tempo necessário para a condução de estudos. “Embora esses avanços ainda estejam em estágios iniciais no Brasil, em comparação com mercados mais maduros, há um movimento crescente de adoção dessas tecnologias, impulsionado tanto por patrocinadores globais quanto por ‘players’ locais”, detalha Francisco.
O executivo destaca ainda que algumas iniciativas têm surgido com o objetivo de integrar prontuários eletrônicos, plataformas de consentimento eletrônico (e-consent), sistemas de captura eletrônica de dados (eCRFs) e ferramentas de monitoramento remoto.
“Redes de hospitais privados, grandes centros acadêmicos e algumas organizações de pesquisa clínica têm investido no desenvolvimento ou na adoção de plataformas integradas que permitam um fluxo de dados mais eficiente entre as diferentes etapas da pesquisa. Startups e empresas de tecnologia em saúde também têm contribuído com soluções inovadoras para digitalização e monitoramento remoto de pacientes.”
No entanto, um dos maiores gargalos ainda é a fragmentação dos dados dentro dos próprios hospitais. “Os protocolos precisam estar em um único lugar. E só com a digitalização isso é possível”, afirma Cabral. Enquanto instituições como o Hospital Israelita Albert Einstein, no Brasil, e a Mayo Clinic, nos Estados Unidos, já operam com estruturas integradas, a maioria das organizações de saúde brasileiras ainda trabalha com silos de informação, dificultando a padronização e o compartilhamento.
Leia mais de Cristina Balerini – Especial para o Saúde Business
Modelos descentralizados ampliam acesso e inclusão na pesquisa clínica brasileira
Os modelos descentralizados de pesquisa clínica vêm ganhando espaço no Brasil como uma alternativa inovadora aos modelos tradicionais. Esses estudos utilizam tecnologias e metodologias para permitir que parte ou a totalidade das atividades do ensaio clínico ocorram fora de um centro físico tradicional, como um hospital ou centro de pesquisa.
O Brasil, avalia Francisco, tem avançado na adoção de modelos descentralizados, ainda que de forma gradual e desigual entre as diferentes regiões e centros de pesquisa. “Esses modelos descentralizados, conhecidos como Decentralized Clinical Trials (DCTs), têm sido implementados especialmente em estudos internacionais ou em projetos conduzidos por centros mais estruturados. No entanto, barreiras regulatórias, limitações tecnológicas e questões relacionadas à logística e conectividade ainda dificultam uma disseminação mais ampla dessa abordagem no país.”
Embora os dados sobre a condução de estudos clínicos descentralizados no Brasil ainda sejam limitados, já se observam esforços concretos para reverter esse cenário. Um estudo transversal descritivo teve como objetivo analisar métodos de monitoramento descentralizado em centros de pesquisa brasileiros.
De acordo com os resultados do estudo, 51,4% dos centros de pesquisa relataram o uso de dispositivos de monitoramento remoto, destacando-se a utilização da telemedicina para a condução de consultas em 63,2% dos casos, entrega domiciliar de medicação (47,4%) e monitoramento remoto por diários eletrônicos (50,6%) e dispositivos vestíveis (12,3%).
“A implementação de estudos clínicos descentralizados tem impacto direto na promoção da diversidade e inclusão de participantes. Essa afirmação parte do pressuposto de que o uso de ferramentas digitais permite o rompimento de barreiras geográficas, econômicas e em alguns casos sociais, ampliando dessa forma o acesso de populações que são historicamente sub-representadas, como residentes de áreas remotas, indivíduos com mobilidade reduzida, entre outras”, avalia Greyce Lousana, presidente executiva da Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica (SBPPC).
Na análise de Greyce, o desenvolvimento de estudos clínicos descentralizados pode garantir uma representação mais ampla dos pacientes, além da inclusão e retenção de um maior número de participantes.
Segundo dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Abracro, cerca de 15% dos estudos clínicos iniciados entre 2022 e 2024 usaram elementos descentralizados como visitas remotas, aplicativos de coleta de dados e monitoramento por dispositivos vestíveis.
Bancos de dados clínicos anonimizados
Os bancos de dados clínicos anonimizados têm se tornado uma ferramenta importante para embasar novas hipóteses, validar estudos e apoiar decisões regulatórias no Brasil. Por meio da análise de dados de vida real, oriundos de registros eletrônicos de saúde, operadoras de saúde ou bases públicas, é possível identificar padrões, testar hipóteses e obter evidências adicionais sobre a eficácia e segurança de intervenções médicas.
Segundo Francisco, essas evidências do mundo real complementam os dados de estudos clínicos tradicionais e têm sido cada vez mais valorizadas tanto pela indústria quanto pelas agências regulatórias. “No Brasil, ainda que esse uso esteja em expansão, especialmente em farmacoeconomia e em estudos de segurança pós-comercialização, ainda há limitações quanto à qualidade e integração dessas bases de dados.”
Greyce explica que a análise exploratória de grandes volumes de dados anonimizados pode revelar padrões inesperados e correlações entre variáveis clínicas que, por sua vez, geram novas perguntas de pesquisa e direcionam futuros estudos. Além disso, esses bancos de dados oferecem a oportunidade de validar achados de estudos clínicos controlados em cenários reais de atendimento, ampliando a robustez das evidências existentes.
“Do ponto de vista regulatório, o uso desses dados vem ganhando reconhecimento por agências reguladoras, como a Anvisa. O acompanhamento contínuo desses bancos permite ainda a vigilância pós-mercado, contribuindo para a identificação de eventos adversos e o aprimoramento do perfil de segurança dos produtos.”
No Brasil, já existem iniciativas que vêm promovendo o acesso aberto a dados e a formação de consórcios para acelerar a produção científica, especialmente na área da saúde.
Um exemplo foi o repositório criado pela Federação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), com apoio da Universidade de São Paulo (USP), do grupo Fleury e dos hospitais Sírio Libanês e Albert Einstein, o COVID-19 Data Sharing/BR. Em 2020, esse repositório de dados anonimizados foi lançado para auxiliar nas pesquisas científicas sobre a Covid-19 e ajudar nas tomadas de decisões contra a pandemia. No ano de lançamento, já reunia informações de mais de 330 mil pacientes, mais de 16 mil registros de desfecho e de mais de 10 milhões de exames clínicos e laboratoriais realizados desde novembro de 2019.
Desafios para equilibrar LGPD e avanço da pesquisa clínica
Para os especialistas, equilibrar inovação tecnológica com proteção de dados na pesquisa clínica exige uma abordagem cuidadosa e alinhada às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). “Para garantir esse equilíbrio, é fundamental que todas as tecnologias utilizadas respeitem os princípios de privacidade de dados e que haja consentimento claro e informado por parte dos participantes”, destaca Francisco.
Além disso, é necessário implementar sistemas robustos de governança de dados, com processos de anonimização ou pseudonimização adequados e monitoramento contínuo para prevenir vazamentos ou usos indevidos. “Ao mesmo tempo, é importante fomentar o diálogo com autoridades reguladoras para que a inovação não seja travada por interpretações excessivamente restritivas, permitindo que novas soluções tecnológicas sejam testadas e validadas de forma ética e segura”, diz o especialista.
A LGPD define como dever ser obtido o consentimento para dados sensíveis e de saúde por meio de uma série de requisitos que devem ser postos em prática pelo responsável pelo tratamento. Nesse contexto, o processo de consentimento informado assume papel ainda mais relevante.
“O modelo tradicional de consentimento pode não ser suficiente frente à complexidade das novas tecnologias, exigindo a adoção de estratégias como o consentimento dinâmico, contínuo ou escalonado. É imprescindível garantir mecanismos simples para que o participante possa revogar seu consentimento a qualquer momento, conforme previsto na LGPD. O uso de linguagem acessível e ferramentas digitais para facilitar essa comunicação deve vir acompanhado de mecanismos seguros e auditáveis, garantindo rastreabilidade e proteção aos direitos dos participantes”, destaca Greyce.
A especialista reforça que é essencial aplicar os princípios da LGPD, especialmente o da minimização, que exige a coleta apenas dos dados estritamente necessários para os objetivos do estudo. “Tecnologias que capturam informações em tempo real podem facilmente levar à coleta excessiva, o que aumenta os riscos éticos e regulatórios. Além disso, é preciso considerar estratégias como anonimização — quando possível — ou pseudonimização, que protege a identidade do participante sem inviabilizar a rastreabilidade, desde que acompanhada de controles de acesso rigorosos e política clara de segregação de dados.”
Greyce diz ainda que as novas tecnologias também expandem o fluxo de dados para além das fronteiras institucionais, circulando entre dispositivos, servidores externos e parceiros internacionais. “Isso exige uma governança de dados robusta, com medidas técnicas (como criptografia e autenticação), administrativas (controle de acessos e ciclo de vida do dado) e regulatórias (documentação de consentimento e plano de resposta a incidentes).
Experiência prática de uso da inteligência artificial em pesquisas clínicas
Em 2024, o Hospital de Amor passou a usar inteligência artificial para auxiliar no recrutamento de pacientes para pesquisa, localizando potenciais candidatos para protocolos de estudos clínicos de novos medicamentos. Além disso, a IA tem sido uma ferramenta para auxiliar no levantamento de literatura e confecção de tabelas, resumos, ilustrações e material pedagógico.
O hospital mantém uma rede de biobancos com mais de 300 mil amostras biológicas (tumores, sangue, tecidos normais) parcialmente vinculadas a dados clínicos de cerca de 60 indivíduos, além de acesso aos dados do Registro Hospitalar de Câncer.
“Além disso, temos dados armazenados de forma estruturada no banco de dados do Registro Eletrônico de Saúde, nos sistemas de informações laboratoriais e no RedCap. Estes dados são tratados pelas equipes de Ciência de Dados e Tecnologia da Informação, com processos rigorosos de limpeza, padronização e anonimização/pseudonimização”, conta Vinícius Vazquez, diretor executivo do Instituto do Ensino e Pesquisa do Hospital de Amor.
O hospital também se faz presente em redes colaborativas nacionais e internacionais, como no Grupo Brasileiro de Estudos em Câncer de Mama (GBECAM), no Latin American Cooperative Oncology Group (LACOG), em consórcios multicêntricos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da International Agency for Research on Cancer (IARC), e em projetos multicêntricos com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), entre outras instituições. Essas colaborações envolvem desde ensaios clínicos fase II/III até estudos populacionais e de rastreamento em larga escala.
O executivo explica que os sistemas de informações hospitalares (SIHs) do Hospital de Amor integram dados ambulatoriais, laboratoriais, anatomopatológicos e radiológicos, que são uma fonte para estudos epidemiológicos e de vida real, para validação de algoritmos de IA em contextos clínicos reais e para criação de coortes retrospectivas e prospectivas.
“Além disso, há o uso crescente de dados dos SIHs para alimentar dashboards interativos de indicadores clínicos, utilizados tanto para gestão quanto para pesquisa.”
Vasquez destaca ainda que o Hospital de Amor tem avançado na condução de ensaios clínicos descentralizados, especialmente em contextos de rastreamento e cuidados paliativos, com o uso de telemedicina e telessaúde, tanto para triagem quanto para seguimento de pacientes; e de aplicativos móveis e mensageria (WhatsApp/Telegram) para contato com pacientes, coleta de dados e notificações.
A convergência entre inteligência artificial, big data e ciência colaborativa marca o início de uma nova era para a pesquisa clínica no Brasil. Essa transformação não se limita apenas ao uso de tecnologias avançadas, mas reflete uma mudança estrutural na forma como os hospitais, centros de pesquisa e instituições públicas encaram a geração de conhecimento científico. Mais do que uma tendência, a incorporação de tecnologias e práticas colaborativas à pesquisa clínica representa uma oportunidade estratégica para o Brasil se posicionar como um polo de excelência científica.